São Paulo, a quem pertence essa cidade?

por Jorge Bassani
Doutor em Arquitetura e Urbanismo, professor de História do Urbanismo na FAUUSP, coordenador do GeMAP, Grupo de Estudos Mapografias Urbanas.

Para essa pergunta, não sabemos a resposta e qualquer uma que seja dada, mesmo um conjunto delas, não dará conta de sintetizar a complexidade do problema, quanto mais apresentar soluções. No entanto, nós ouvimos, lemos e, principalmente, vemos (sentimos) coisas da cidade. Nesta condição, de “sujeitos urbanos” (na definição da socióloga da Universidade de Columbia, Saskia Sassen), nos lançamos legitimamente neste debate, intensamente provocativo para quem habita cidades.
Temos que ter no horizonte que o desenho excludente que São Paulo apresenta neste momento, foi concebido, portanto desejado, pela sociedade que construiu seu espaço segundo uma estrutura definida previamente. Evidentemente, não precisamos nem ao menos lembrar que alguns setores da sociedade desenharam-na mais do que outros, em quantidade e intensidade. A sociedade urbana é dividida em os “com poder” e os “sem poder” (recorrendo novamente à profa. Sassen), entre todos os poderes o supremo é certamente este, construir as cidades de acordo com seus desejos.
Portanto, sabemos com relativa clareza que a não integração, ou a fragmentação e segregação de São Paulo obedeceu e obedece às pré-figurações que atores, também, relativamente conhecidos, fazem da cidade. Então, é o caso de perguntar quem deseja que a cidade se integre a ela mesma? Possivelmente todos os outros, os “sem poder” e, possivelmente também, parcelas dos “com poder” que em algum sentido também são vitimadas pela agressividade de uma lógica urbana (não só desenho, mas sistema de trocas) que segrega e distancia ao extremo.
A integração da cidade a ela, questão colocada pela Bravo!, constitui um estado de permanente porosidade entre os diversos territórios (condições geográfica + política) que compõem a cidade envolta por um senso cívico de pertencimento a um todo único. Assim colocada, a questão supera o utópico e esbarra no ingênuo e vazio de significado ante a realidade que temos. Porém, ganha dimensão e profundidade quando entendemos que o requerido franco acesso à cidade advém de que ela é desejada, interessante, agradável, útil.
Portanto, a integração reivindicada seria todos terem acesso a essas condições favoráveis existentes na cidade que habitam. São Paulo tem dois estágios, pertence à (muito minoritária) elite que tem dinheiro (poder); mas, deveria pertencer a todos. Como resolvemos isso? Integrando as massas excluídas à cidade bem desenhada (aquela pensada para excluir). Mas, não podemos esquecer que nos quantitativos ela é exígua no oceano da mancha urbana construída pelo crescimento periférico voraz.
Sabemos muito bem que o mais difícil pelos custos, trabalho social e motivações políticas envolvidos, é a transformação físico-espacial da cidade, ou seja, é constituir infraestrutura e superestrutura urbanas em quantidade capaz de proporcionar esta cidade do “bem estar” acessível a todos.
Do ponto de vista técnico urbanístico, apesar da enorme complexidade do problema, existe grande segurança nas respostas amparadas em procedimentos generalistas aplicados nas últimas décadas em várias cidades do mundo. Em geral eles começam pelo item mobilidade e a acessibilidade (em todas as escalas) como elemento estruturante; em seguida pelas condições do habitat como elemento estruturado. No caso de São Paulo, e parece uníssono, seria a melhor resposta para reverter o desenho excludente da cidade. É submeter a cidade toda (e sua população) a uma lógica de hierarquias de fluxos. Não sei se é ruim, mas, também, não sei se é bom.
A dificuldade em aderir a esse pensamento é exatamente sua lógica de linha de montagem naturalizada. E como essas lógicas sempre estão mais ativas em controlar e disciplinar do que expandir e transbordar. Impossível não lembrar o PIN (Plano de Integração Nacional) criado pela ditadura militar (1970, Gal. Garrastazu Médici) para fazer o Estado chegar aos “vazios demográficos” das regiões mais distantes do país. O fato mais memorável do Plano foi a construção da Transamazônica e toda a catástrofe ambiental, social e étnica (questão indígena) que representou. E, o mais importante nesta lembrança, é verificar que o PIN previa “colonizações” em uma extensa margem ao longo das estradas a serem construídas — o estruturante e o estruturado.
Não pretendo ser tão dramático a ponto de comparar as políticas de controle da ditadura militar com as propostas de políticas de mobilidade atuais. Porém, colocá-las como referência exacerbada de que a aplicação de lógicas simplificadoras deve ser questionada quando transforma-se em resposta pronta. E, aqui neste artigo, o questionamento dirige-se para dois pontos.
O primeiro é, me desculpem pelo trocadilho, primário. Os fluxos, especialmente de pessoas, em São Paulo são motivados pelo trabalho e reprodução do capital, a eficiência dos canais de circulação está comprometida com este papel. Na escala do cotidiano, também representa que o cidadão sai da periferia precária para a muito distante cidade de boa forma para trabalhar. Ou mesmo que seja para estudar, comprar, se divertir. A cidade equipada com tudo isto está longe dele, logo a necessidade de transportes eficientes para integrá-lo à cidade que não é o território que ele habita, que continua a não-cidade ou a cidade que não está integrada a ela mesma nem a nenhuma outra.
O segundo ponto é, também usando o exemplo em cores carregadas da Transamazônica, o que aconteceu com os índios (selvagens) em termos culturais, territoriais e de saúde (inclusive mental) quando entram em contato (conflito) de maneira tão abrupta com a lógica civilizada, pode nos sugerir como é o processo diário de desterritorialização nos trajetos de casa para o trabalho. No senso comum, temos ideia deste tipo de impacto. Se lá na Amazônia o impacto tinha uma matriz, antes de tudo, tecnológica para subjugar a cultura indígena; as relações desiguais de poder entre a cidade e os territórios periféricos têm como matriz as formas de consumo, principalmente consumo da própria cidade.
Isto é um manifesto em favor do isolamento?! Absolutamente não, é um livre pensar sobre a diversidade dos territórios urbanos e como pode haver trocas positivas e de grande intensidade para o viver democrático na cidade. Melhor dizendo, nas cidades e entre as cidades. Existem várias em São Paulo ou em qualquer outra metrópole do mundo, muito além da polarização formal e informal. E não falamos em limites administrativos, falamos em manchas construídas “unitárias” em forma, um tecido definível (apesar de bordas imprecisas) geograficamente e ocupado por funções que seriam características do urbano. Contudo, a experiência com este ambiente nos relata que são inúmeros universos diferentes com geopolítica e geometria também definidas (apesar de por vezes sobrepostos) e, proporcionalmente à mancha toda, prioritariamente ocupados por uma única função, o morar, ou o sobreviver.
De fato, o todo equilibrado não existe em qualquer acepção que fizermos dele. A ideia da cidade unitária, civitas, é impensável nas realidades pós-industriais. A leitura de que são inúmeras configurações formais e socioculturais disputando territórios de alguma forma “integrados” a outros territórios da mancha geourbana é clara. O todo pressupõe o Centro, o magneto da unidade, em termos reais ele existe nas expressões do poder político seja com quaisquer compromissos que ele é exercido. Ele não é definido espacialmente na geometria euclidiana, é um espaço não dimensional, topológico, pulverizado em muitos dos territórios urbanos. Sua pulverização molecular também depende das integrações espaciais; ou melhor, espacialmente ele se constitui por meio das redes que constrói sobre os territórios escolhidos criteriosamente.
Por tudo isso, o que me ocorre como ponto fundamental para pensar sobre integração da cidade com seu cidadão de qualquer extrato social é reconhecer o direito dos territórios construídos por seus ocupantes nas margens da cidade legal de “serem cidade”. A quem pertence a cidade? Àqueles que territorializaram relações socioculturais numa porção delimitada de terra, que constituíram relações urbanas entre si em escala política definida, em código de conduta ou contrato social próprios.
Os vínculos e integrações com outros territórios devem atender exclusivamente às necessidades de territorialização e urbanização de cada bairro, comunidade, assentamento, vila, ou qualquer nome que dermos a essas unidades moleculares que formam o tecido da mancha urbana de São Paulo. A impressão que temos é que qualquer que seja o desenho de cidade originário das ideias de unidade (de seu centro tomador das decisões) será excludente. Em proporções e condições diferentes estará sempre excluindo partes da sociedade e, não raramente, maiorias. Não é a periferia metropolitana em sua precariedade material que sufoca a cidade, mas sim o contrário. A pressão socioeconômica exercida pelos centros urbanos que esmagam as potencialidades transformadoras dos territórios nas periferias da cidade.
E elas são muitas, proporcionadas exatamente pelo exercício diário de se constituírem como comunidades, como vida em sociedade apesar da ausência de um Estado atento às suas demandas. Esta prática confere o caráter urbano, o direito de ser cidade, mais que o direito de acessibilidade espacial, é o direito à sua urbanidade, das necessidades básicas de saneamento e calçamento à toda a diversidade de atividades urbanas definidas pelo suas dinâmicas culturais. Quanto às tipologias e morfologias, elas estão designadas pela própria territorialização e obedecem seus contratos socioespaciais.
Ainda em relação ao direito de ser cidade, o pertencimento e a integração, não se pode evitar as reflexões do sociólogo e filósofo francês Henri Lefebvre que, no emblemático ano de 1968, incutiu a ideia na pauta de discussões sobre a sociedade contemporânea ao publicar “O direito à cidade”. Na época foi fundamental para a tomada de Paris pelas barricadas de Maio, nos últimos anos voltou à moda pela (mais ainda) urgência do tema. Ele se posiciona perante as ciências da cidade no sentido de provocar, além do entendimento do fenômeno urbano, a necessidade de problematizar para quem e com quais meios políticos a cidade se realiza. E propõe essa reflexão a partir cotidiano real ao invés de modelos abstratos e ideologizados.
Recorro a dois trechos da obra, um para evidenciar que os territórios à margem é questão emergente logo no início da metropolização galopante no segundo pós-guerra, ao notar que em 68 já era sensível e preocupante para Lefebvre. E, mais, a constatação de que a transformação social só é possível por meio dos elementos locais, possibilidade que depende forças que os reúna, os potencialize:
“Num período em que os ideólogos discorrem absolutamente sobre as estruturas, a desestruturação (social, cultural). Esta sociedade, considerada globalmente, descobre que é lacunar. Entre os subsistema e as estruturas consolidadas por diversos meios (coação, terror, persuasão ideológica) existem buracos, às vezes abismos. Contêm os elementos deste possível, elementos flutuantes ou dispersos, mas não a força capaz de os reunir. Mais ainda: as ações estruturantes e o poder do vazio social tendem a impedir a ação e a simples presença de semelhante força. As instâncias do possível só podem ser realizadas pelo decorrer de uma metamorfose radical”.
O outro para reforçar a ideia que “o urbanismo como doutrina, isto é, como ideologia, que interpreta os conhecimentos parciais, que justifica as aplicações, elevando-as (por extrapolação) a uma totalidade mal fundamentada ou mal legitimada” (p.47), não constitui instrumento capaz de atribuir aos territórios a urbanidade desejada. A única fresta em que podemos enxergá-la é por meio de uma dinâmica urbanística resultante da atuação dos atores territorializados e organizados em comunidades. Neste formato mesmo o técnico urbanista pode e deve atuar em conjunto a partir do conhecimento das dinâmicas próprias do território e não da aplicação de modelos sob a noção de unidade composta por partes integradas e hierarquizadas.
Para Lefebvre, “O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada”… o ‘urbano’, lugar de encontro, prioridade do valor de uso, inscrição no espaço de um tempo promovido à posição de supremo bem entre os bens, encontre sua base morfológica, sua realização prático-sensível.”
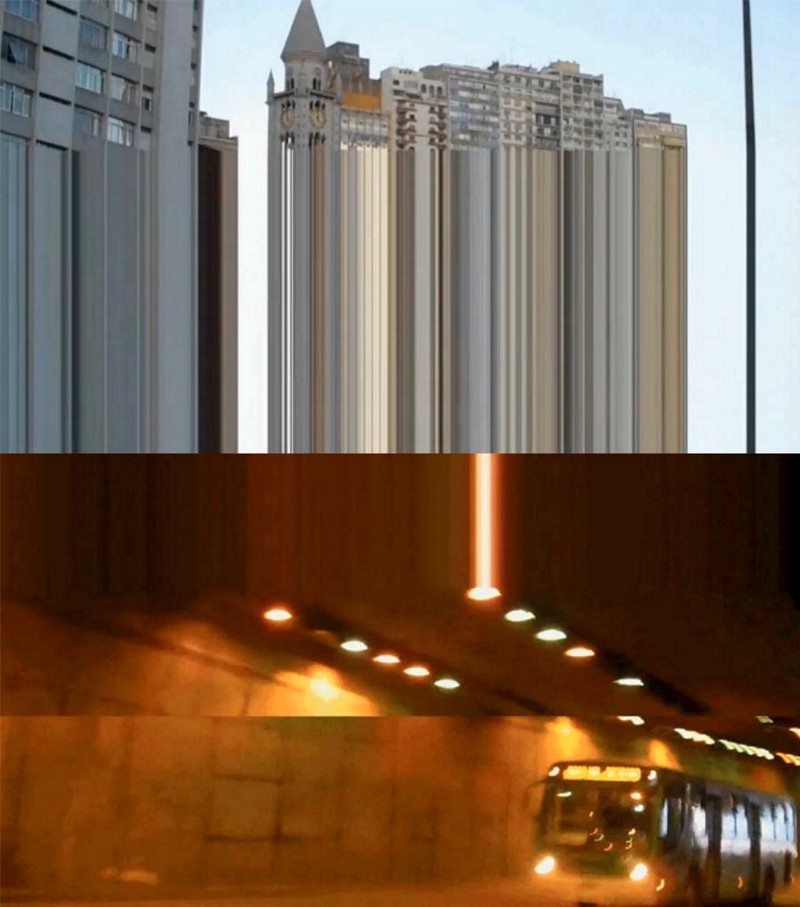
O Jardim Lapenna
Uma breve ilustração das reflexões introdutórias deste texto, mais que ilustração, possivelmente a motivação delas decorre da experiência realizada com estudantes de ensino médio de uma escola do Jardim Lapenna. A USP tem um programa chamado “Aprender com Cultura e Extensão”, nele estudantes da Universidade colaboram em projetos junto à comunidade coordenado por um professor. Inscrevi (e foi selecionado) no ano passado o projeto Mapografias urbanas — Zona Leste, sua realização foi na Escola Estadual Pedro Moreira Matos na região de São Miguel Paulista.
O projeto Mapografias consiste de propor a jovens na faixa dos 16, 17 anos desenhar mapas diversos de seu território. A faixa etária é importante, crescidos o suficiente para caminharem sem tutores e movidos pelo desejo de descobertas, no entanto, ainda sem os vícios da percepção utilitária da cidade. O projeto foi aplicado em outra oportunidade em escola no centro de São Paulo. Na periferia distante foi a primeira vez e, como já era esperado, deu nova dimensão ao projeto. Isso porque as noções primárias de território e territorialização fazem parte das práticas de sobrevivência diárias nestes nestas situações geo-urbanas.
O Mapografias entende que a transformação da sociedade ocorre por meio da compreensão que ela faz do território (espaço + sociedade + política). Aprendemos com Milton Santos que território é “de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de constante revisão histórica. O que ele tem de permanente é ser nosso quadro de vida. Seu entendimento é, pois fundamental para afastar o risco de alienação, o risco de perda do sentido individual e coletivo, o risco de renúncia ao futuro” (Por uma Geografia Nova, 1978).
A primeira edição do projeto foi conduzida no Colégio de São Paulo, localizado no Parque Dom Pedro II, absolutamente central. As indicações fornecidas pelos estudantes em seus mapas de suas formas de territorialização foram muito interessantes, porém, difusas. Lá os estudantes estão no Centro, são cortados por inúmeros sistemas de circulação que apontam em todas as direções do mundo exterior. Eles convivem com a saturação do centro contemporâneo, mesmo que decaído, com os arranha-céus, com os veículos e as multidões. O território para eles tem um componente de midiático.
O Lapenna é o mais franco imediatismo nas relações população — ambiente, nas relações de territorialização. A experiência com os estudantes do Pedro Moreira nos mostrou isso, e mais, mostrou-nos o quanto é fundamental para a existência atual e as perspectivas de futuro eles estarem territorializados. O Jardim é uma vila (mistura de loteamento clandestino com ocupações) pendurada na linha do trem e espremida entre a via expressa Jacú-Pessego, a rodovia Ayrton Sena e as enormes instalações de uma indústria química na várzea do Rio Tietê. Como todas nestas condições, sujeita aos fluxos pendulares do trabalho. No entanto estes jovens ficam lá, poucos trabalham, portanto poucos saem da ilha cercada por canais vedados de mobilidade.
Quando foram provocados a se inscreverem no território do Lapenna e deixar desenhada (ou cartografada) esta inscrição, toda a timidez no contato com estudantes da USP se desfez, eles são incisivos e diretos, o desejável e o indesejável, o seguro e arriscado, o lícito e o ilícito são narrativas completas e não descrições abstratas.
Esta demonstração aconteceu em um happening no pátio da escola no horário do recreio noturno. Os estudantes que participaram das oficinas do projeto fizeram um mapa base da vila e colaram na parede para que os outros estudantes marcassem seus cotidianos sobre aquela representação. Na ocasião pode ser visto claramente o potencial transformador dos “elementos não reunidos” a que se refere Lefebvre. Mas, quanto ao nosso debate sobre integração e desenho excludente, a experiência mais marcante para refletir sobre o tema, aconteceu ao término das atividades do projeto.
Em conversas com os meninos e meninas, prometi que os levaria para conhecer a FAU depois que acabassem as oficinas. Acho que o fiz para que não dispersassem e me deixassem falando sozinho. Mas, uma vez prometido, tive que cumprir. Fomos num grupo de uns dez estudantes de trem + metrô + ônibus, ida e volta, de São Miguel até a Cidade Universitária, a maioria nunca tinha entrado no metrô! Foi muito divertido para todos nós. Eles adoraram o prédio de Vilanova Artigas e os funcionários dos laboratórios fizeram questão de mostrar tudo e convidá-los para atividades que acontecem lá abertas ao público externo.
Seria o cúmulo da pieguice, narrar este acontecimento e falar que àqueles meninos e meninas que pertence a cidade, que eles sim devem ter o direito à cidade. O que é a pura verdade, mas uma verdade que tem outra versão. Nos comentários, expressões, reações às quais fiquei muito atento durante o dia todo do passeio — trajeto muito longo, chegada no jardim da Cidade Universitária (é possível contar nos dedos o número de árvores no Lapenna), a entrada no Salão Caramelo da FAU — era perceptível o espanto de como achavam tudo fantástico, ainda mais tratando-se de uma escola.
Entretanto, o que mais me chamou a atenção foi certa displicência “turística”. Estávamos em um grupo de turistas, claro um turismo qualificado e com ares acadêmicos, mas ainda assim, este tipo de distanciamento turístico ficou patente no comportamento deles. Não por desinteresse, estavam o tempo todo muito empolgados com tudo que viam e ouviam. Ou seja, como todos ficamos quando visitamos outras cidades.
Conversando com eles, ouvi comentários diversos que, em minha interpretação, explicavam as minhas impressões. Não se tratava de aquela morfologia ou aquele equipamento estarem acessíveis, nem ao menos da distância e dificuldade para chegar até lá, nem tampouco se eles têm a chance de estarem lá futuramente como alunos. Mas, sim, o quão formidável seria ter aquele universo de possibilidades onde eles estão territorializados, no cotidiano do território deles.
A imagem que me ocorreu imediatamente enquanto os ouvia, era daquele grupo de jovens do Pedro Moreira marcando lugares no mapa do Lapenna, pois falavam de como aquela multiplicidade de acontecimentos e atividades descobertas na USP deveriam povoar a vila deles. Eles não priorizavam a forma urbana da Cidade Universitária ou a tipologias dos edifícios, apesar de gostarem muito. Mas elas são o outro, ou de outros, eles reconhecem a própria construção coletiva e identitária de seu território, portanto, não faria sentido transplantar outras na complexa e autoral morfologia que construíram.
Para eles neste momento, saberem que Cidade Universitária está lá, que podem ir a qualquer momento e saberem como se chega até ela, é o suficiente. Mesmo que demore duas horas chegar é um lugar muito agradável e interessante para se passear, mas as funções sociais que ela abriga deveriam estar espalhadas pela cidade. E a cidade está no território deles. Aprendi com eles um encaminhamento possível para pensar a questão da integração na cidade do desenho excludente.
Julho, 2016
Este texto faz parte do episódio “São Paulo Autofágica” da revista Bravo!. Clique aqui para acessar o episódio.

 Obra de Ruy Castro vence o Prêmio Jabuti 2025 como Livro do Ano
Obra de Ruy Castro vence o Prêmio Jabuti 2025 como Livro do Ano Salvador Dalí: 10 obras que marcaram a trajetória do artista
Salvador Dalí: 10 obras que marcaram a trajetória do artista Björn Andrésen, lembrado por Morte em Veneza, morre aos 70
Björn Andrésen, lembrado por Morte em Veneza, morre aos 70 Ranking: 100 melhores livros brasileiros segundo a Bravo!
Ranking: 100 melhores livros brasileiros segundo a Bravo! A real história sobre as joias roubadas do Louvre
A real história sobre as joias roubadas do Louvre