Ressignificar existências
Autora destaque da Flip, americana Saidiya Hartman procura no período mais sombrio da história, a escravatura, soluções para nossos dramas contemporâneos

Quem somos, nossa formação, nossos hábitos, tudo tem a ver com aquilo que nossos antepassados nos ensinaram ou deixaram para trás em registros e documentos. Mas, o que sobra se não sabemos de nada disso?
Durante cerca de 400 anos – entre o início da era das navegações e o final do século 19 –, a aberração do tráfico humano transatlântico empenhou com bastante sucesso um apagamento total das culturas africanas atingidas pelo colonialismo europeu. Jogados em barcos-cargueiros-caixões, Jejes, Bantus, Zulus, Dinkas e muitos outros povos tiveram suas origens apagadas. Tornados apenas “negros”, foram descarregados do lado de cá para servir como mão de obra em lavouras de monocultura, verdadeiros maquinários que foram perdendo suas vidas, almas e auras no decorrer da história.
Estamos no século 21 e as sombras do terror do período colonial ainda nos rondam. Se a história é feita pelos vencedores, como recuperar a dignidade daqueles que foram feitos perdedores sem nunca terem entrado em uma guerra contra quem os oprimiu?
Professora pela Universidade de Columbia, a nova-iorquina Saidiya Hartman vivia na pele o incômodo latente de não saber sua origem. Debruçada em arquivos históricos, descobriu lacunas e fatos que ajudam a corroborar a ideia de que aquilo que ficou escrito para as futuras gerações é apenas a ponta de um iceberg constituído não de água, mas de sangue.
Autora dos livros Perder a Mãe, publicado no Brasil pela editora Bazar do Tempo, e de Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, da Fósforo, ela se dedica há mais de trinta anos a revirar os arquivos históricos do período da escravatura e das primeiras décadas após a abolição. Neste tempo, concluiu que o apagamento é um mecanismo útil para acabar com auto-estimas individuais e orgulhos coletivos, facilitando a criminalização e a marginalização de indivíduos considerados apenas sub-humanos.

Um dos destaques deste ano da Festa Literária de Paraty deste ano, Saidiya Hartman também compreendeu que recuperar histórias apagadas é ensinar a sociedade de hoje que não podemos repetir as monstruosidades do passado – embora elas sempre estejam batendo à nossa porta.
Nós conversamos com ela, confira:
Seu estilo de escrita abraça algo que você chama de “fabulação crítica”, um método que combina documentos históricos com algum grau de ficcionalização, que serve para preencher algumas lacunas nas histórias de seus personagens. Por que é importante criar partes dessas vidas a fim de traçar o que era, e ainda é, a violência racial na nossa sociedade?
A fabulação crítica emergiu como um conceito e uma ferramenta para mim porque os arquivos e registros históricos são construídos pelo poder dominante, pela violência e por esses silêncios incríveis. Então, como seria possível narrar a vida dos escravizados, da classe trabalhadora, de quem não tem posse ou quem vive na miséria?
Eu sabia que queria contar essas histórias impossíveis, por isso levei a narrativa desses arquivos ao limite, enquanto, ao mesmo tempo, buscava mostrar o quanto esses documentos são parciais, uma espécie de ficção dentro de si próprios.
Veja, por exemplo, Notes on the State of Virginia [Notas sobre o Estado da Virginia], de Thomas Jefferson. O texto é considerado como tendo sido escrito por um homem bom, iluminado, que propôs teorias racializadas da humanidade.
As teorias de Jefferson realmente dão conta de sua própria vida e seu próprio trabalho, e são produtos de uma realidade, mas também de uma espécie complexa de realidade que vivemos, porque o objetivo de quem está no poder é manter as histórias dos desprovidos impossíveis de serem contadas.
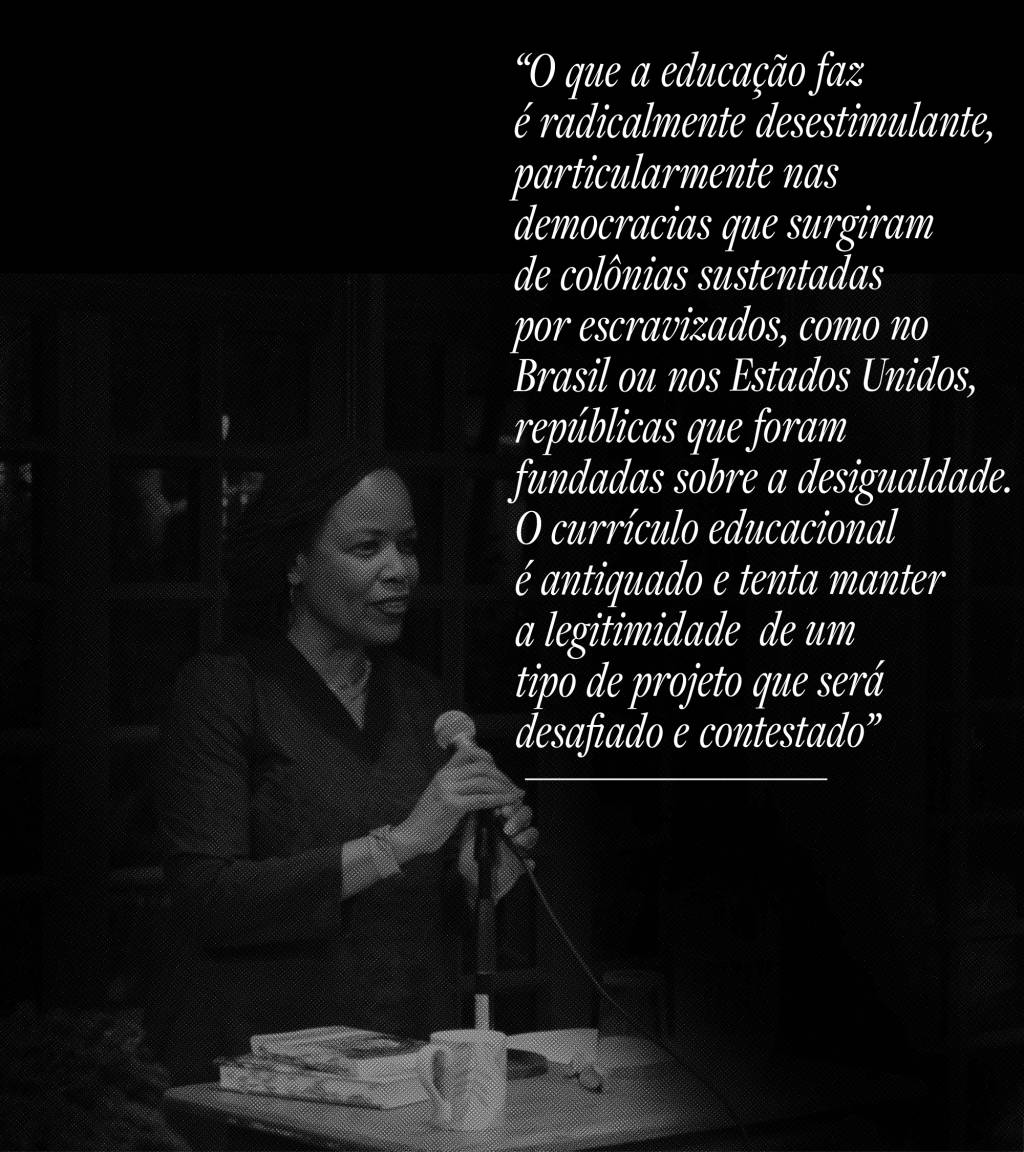
Como você sabe, houve uma destruição enorme de provas. Os arquivos britânicos sobre as atrocidades coloniais no Quênia, ou os documentos sobre o tráfico de escravizados, foram escondidos, editados, destruídos, porque há uma enorme falta de vontade de dar conta da violência que foi essencial para manter essa ordem colonial racializada.
Portanto, a fabulação crítica é tanto um desafio ao conhecimento produzido pelos poderosos quanto uma tentativa de honrar as memórias dos dominados.
Os estudos decoloniais são uma enorme tendência hoje em dia, mas pelo menos no Brasil eles ainda são considerados um nicho, ou algo desligado da educação básica. Como podemos tocar nesses assuntos em sociedades que ainda ensinam que nosso continente foi descoberto por europeus, ou que Deus permitiu a escravatura de mais de 15 milhões de pessoas por causa de seus tons de pele?
Trata-se de confrontar esse conhecimento produzido pelos poderosos. Esse currículo está atrelado a uma certa maneira de governança, ajudando a permitir uma espécie de ordem social.
Nos Estados Unidos, atualmente, há um movimento enorme de proibição de livros. Muitos estados não estão mais permitidos de mencionar a palavra “escravidão” em seus currículos escolares. Não há história negra sendo contada, e isso é inseparável do movimento de cassar os direitos dos negros.
O que a educação faz é radicalmente desestimulante, particularmente nas democracias que surgiram de colônias sustentadas por escravizados, como no Brasil ou nos Estados Unidos, repúblicas que foram fundadas sobre a desigualdade. O currículo educacional é antiquado, e tenta manter a legitimidade de um tipo de projeto que será desafiado e contestado.
Recentemente, estava em um trem indo para o Sul e duas mulheres brancas estavam nos bancos de trás falando sobre um livro infantil que conta a vida de Ruby Bridges [a primeira criança negra a estudar em uma escola de brancos no país], que ajudou a dessegregar sua escola. Elas diziam não querer que suas filhas lessem essa história na pré-escola porque não queriam ser confrontadas.
Basicamente, há ódio dos adultos brancos contra essa criança negra, que entrou na escola e foi retirada pela Guarda Nacional porque nenhum professor queria ensiná-la, nem nenhuma criança queria brincar com ela. Então, é menos sobre o que Ruby Bridges representa, e sim pelo que ela fez naquele momento.
Acho que esse é o desafio dessas histórias e desse currículo decolonial, porque eles têm o potencial de permitir que as crianças, que ainda estão abertas e formando suas visões de mundo, tenham pareceres muito mais complexos das forças que estão por trás do desenvolvimento das sociedades.
——
——
Ainda falando sobre isso, a decolonialidade é maravilhosa por conseguir colocar em um mesmo patamar conversas sobre raça, gênero, cultura, educação, meio ambiente e muito mais. Mas, como podemos aplicar as ideias decoloniais se o capitalismo sempre encontra uma maneira de subverter esses assuntos, criando aberrações como greenwashing, pink money, black money, políticas de ESG e muito mais?
Falar sobre a enorme capacidade de absorção e transformação do capital nos leva a refletir sobre um projeto anticapitalista, que é fundamental. Existem projetos antirracistas ou feministas que não refletem sobre o capitalismo, que são incorporados em projetos de estados liberais.
Veja, por exemplo, o [banco] Goldman Sachs. Eles têm um projeto para ajudar mulheres negras. Por acaso vão redistribuir a riqueza que roubaram na forma de filantropia?
Então, há esse enquadramento crítico do capitalismo em relação a esses projetos, porque eles não são tão fáceis de absorver.
Por isso, em vez de haver avanços, há o banimento de livros – mesmo aqueles sobre o holocausto, como Maus, de Art Spiegelman. Não importa que tipo de atrocidade está sendo retratada nos livros, racismo ou antissemitismo, eles mostram como é um estado racializado. E como essas histórias não serão apagadas, nunca, então precisam ser reprimidas.

O Brasil entrou em um estado de negação na última década. O extremismo aumentou, patrocinado pelo governo, enquanto as políticas de reparação foram praticamente destruídas. Assim como nos Estados Unidos, agora elegemos um progressista, mas as sementes do ódio já estão plantadas. Como os EUA estão lidando com essa situação, e o que podemos aprender desse período para evitar que os supremacistas voltem?
Acho que essa é uma pergunta aberta, porque esse movimento da extrema direita, essas formas de terrorismo reacionário, são explícitas. Nada disso desapareceu porque Trump perdeu sua reeleição. Pelo contrário, isso ajudou a solidificar essa linguagem que Bolsonaro também usa. O que vai acontecer ainda é difícil de prever.
Quando vemos esses discursos de eleições fraudadas ou de defesa da democracia, percebemos uma visão bastante anêmica do que é a democracia, em primeiro lugar. E, claro, houve a reversão de Roe vs. Wade [que regrediu as leis de aborto no país], o rompante de nacionalismo branco, o fundamentalismo cristão. Vivemos tempos bastante assustadores.
E, no entanto, o que os integrantes do Partido Democrata veem no horizonte é noção de volta à normalidade, que na verdade também é capitalista, heteronormativa e anti-negros. Portanto, se faz necessário forçar um pouco mais os democratas em busca de mudanças.
“Em vez de haver avanços, há o banimento de livros – mesmo aqueles sobre o holocausto, como Maus, de Art Spiegelman. Não importa que tipo de atrocidade está sendo retratada nos livros, racismo ou antissemitismo, eles mostram como é um estado racializado. E como essas histórias não serão apagadas, nunca, então precisam ser reprimidas”
Saidiya Hartman, pesquisadora

Você falou sobre movimentos explícitos em um momento em que estamos assistindo redes sociais como o Twitter restabelecendo extremistas, e canais de televisão propagando ideias supremacistas junto com notícias falsas…
O Twitter está colapsando, boa parte da força de trabalho foi embora, então pode se tratar de um momento interessante. O que sobrou dessas plataformas? Vamos continuar colocando nossas comunicações nas mãos de corporações?
Mas ainda não há maneira de evitar que esses discursos sejam propagados.
Não, e acho que isso tem a ver com a maneira com os democratas mais alinhados com o centro, e incluo Barack Obama nesta lista, lidaram com a situação. Obama normalizou a transição para Donald Trump, disse que não deveríamos nos preocupar porque a democracia estava salva. Naquele momento, ele poderia ter dito que estava preocupado.
O que precisamos nesse momento são de lideranças fortes no campo da esquerda, ou que pelo menos os democratas sejam forçados a tomarem políticas mais republicanas.
E, mesmo assim, tudo isso é muito sombrio, porque não há mudança social alguma no horizonte, existem apenas tentativas de conter o fascismo.

Seu livro mais recente, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, fala sobre como a sociedade encontrou maneiras de controlar os negros nos centros urbanos no período pós-abolição. Como você nota, esse cerceamento se deu primeiro pelo sexo, mas depois veio a guerra às drogas, gerrymandering e a supressão de eleitores. Para mim, essa imagem lembra o clássico disco Fear of a Black Planet [Medo de um Planeta Negro], do grupo de rap Public Enemy. É isso mesmo, esse medo existe?
Na verdade, o que existe é o medo da morte dos brancos. O nacionalismo branco não se sente ameaçado apenas pelos negros, mas por quaisquer pessoas racializadas. Neste momento, o preconceito contra judeus vem aumentando, e também há pela primeira vez uma violência contra asiáticos nos Estados Unidos.
Nós vemos nas sociedades ocidentais essas fantasias de genocídios raciais que já varreram a Europa uma vez. Qual é, atualmente, a maneira que a Suécia lida com o multiculturalismo? Skinheads nazistas [atualmente, o partido Sverigedemokraterna, de extrema direita, é o segundo com maior número de assentos no parlamento sueco].
“Quando vemos esses discursos de eleições fraudadas ou de defesa da democracia, percebemos uma visão bastante anêmica do que é a democracia, em primeiro lugar”
Saidiya Hartman, pesquisadora

Acho que trata-se de uma reflexão para essas “democracias ocidentais”: como habitar o planeta com outros sem dominá-los? Porque essas mobilizações da extrema direita também estão acontecendo na Europa, e lá se trata menos da branquitude e mais da preservação dos “modos” franceses, as leis da cultura francesa, que na verdade não passa de um eufemismo para descrever a ameaça que africanos e árabes trazem para esse estilo de vida.
O que você está preparando para a Flip deste ano, e o que espera encontrar por aqui?
Quer saber? Minha apresentação ainda não está pronta [risos]. Estou ansiosa para conhecer outras autoras, principalmente brasileiras, porque há muita dificuldade no diálogo por conta da falta de traduções. Eu também amo o trabalho de Annie Ernaux desde pequena, então será um prazer conhecê-la, afinal não é todo dia que uma mulher ganha um Prêmio Nobel.

 Djavan segue arriscando em “Improviso” e mostra o melhor de sua poesia em novo disco
Djavan segue arriscando em “Improviso” e mostra o melhor de sua poesia em novo disco Mariana Salomão Carrara vence o Prêmio São Paulo de Literatura
Mariana Salomão Carrara vence o Prêmio São Paulo de Literatura 3 exposições gratuitas para visitar em São Paulo
3 exposições gratuitas para visitar em São Paulo Exposição de Minerva Cuevas investiga como o poder molda a crise ecológica
Exposição de Minerva Cuevas investiga como o poder molda a crise ecológica Artista brasileira estreia no Museu do Cairo com obra inspirada em símbolos egípcios
Artista brasileira estreia no Museu do Cairo com obra inspirada em símbolos egípcios