A poesia independente e afiada de Luiza Romão
A autora, vencedora do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Poesia, falou à Bravo sobre seu método literário e sua participação na Flip 2023

A escritora Luiza Romão torna a literatura uma prática apaixonada do cotidiano, desprovida de cerimônias, sem elitismo e, acima de tudo, acessível a todos. Essa abordagem compreensível reflete seu primeiro contato com a literatura e, especialmente, com a poesia, tratados como uma brincadeira. Seu amor pelas palavras escritas floresceu cedo, influenciado pelos pais, ambos professores.
“Comecei a escrever muito nova, na infância. A poesia começou como verbo, corporificado e partilhado. Ela estava sempre presente em casa. Seja no cantarolar das canções de Gil, Paulinho da Viola, Gal. Seja na leitura de Drummond, Gullar, Lalau e Laura Beatriz, Manuel de Barros. Meus pais nos liam em voz alta, então a poesia chegava pelos ouvidos, de uma forma lúdica e afetiva”, relembra a autora em uma entrevista à Revista Bravo!. Mais tarde, se encantou por outra linguagem, o slam, que foi fundamental para o amadurecimento de sua escrita poética.
No ano passado, Luiza Romão teve seu trabalho reconhecido no Prêmio Jabuti por seu livro de poemas “Também Guardamos Pedras Aqui”, publicado pela Editora Nós em 2021. No mesmo ano, ela foi finalista do Prêmio Oceanos. E tudo mudou. Essas duas conquistas foram um completo divisor de águas na sua carreira. “O Prêmio Jabuti possibilitou que meu trabalho chegasse a muitos leitores novos. Até então, meus livros eram vendidos de mão em mão, após leituras, batalhas [de slam] e performances. E de repente, eles estão por toda parte, em bibliotecas, feiras, livrarias e escolas, encontrando um público que não me conhecia”, conta.
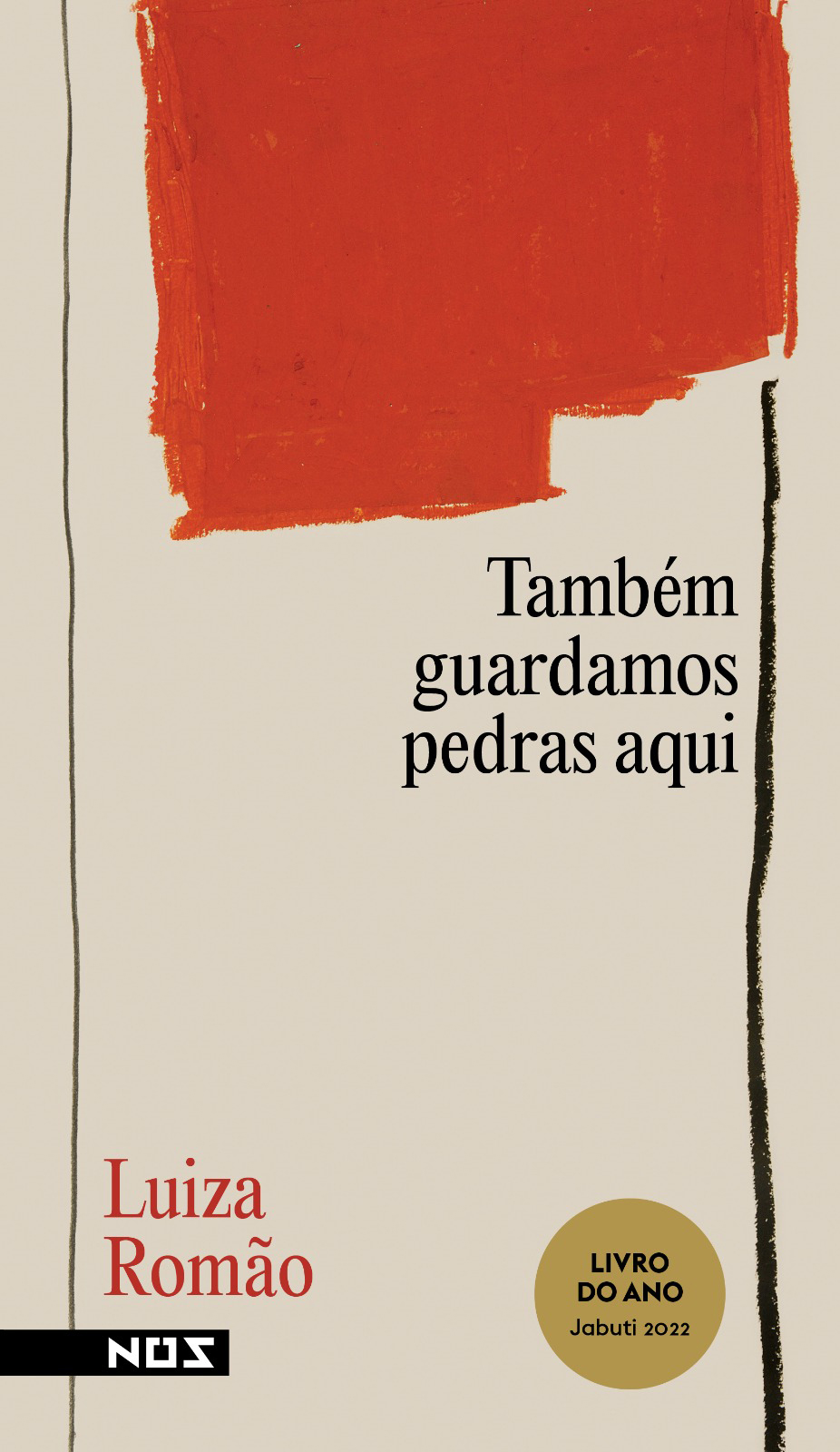
A concepção da obra surgiu durante as oficinas literárias do escritor pernambucano Marcelino Freire (autor de “Angu de Sangue”), frequentadas por Luiza. No livro, a autora estabelece paralelos entre as guerras na Grécia Antiga e a contemporaneidade na América Latina. O fator comum é a presença da violência nos registros, desde Homero, especialmente a violência contra as mulheres. Para cada poema, ela nomeia um personagem grego mítico.
“Fui mapeando as atmosferas, percebendo que o livro era sobre violência, era sobre a literatura ocidental ser fundada a partir de um massacre, era sobre como essas tecnologias de morte chegam à América Latina via processo colonial e causam um estrago imenso e contínuo”, explica ela.
Confira abaixo a entrevista completa onde a autora entrega mais detalhes sobre sua rotina e processo de escrita, passando pelos autores que influenciam o seu trabalho e também por detalhes de sua participação na próxima edição da Flip:
Quando você começou a escrever?
Comecei muito nova, na infância. Meus pais são professores (meu pai de Filosofia/História/Sociologia e minha mãe de Letras) e sempre estimularam muito a leitura, a criação, o brincar. Para você ter ideia, meu nome vem daquela música do Tom Jobim (“vem cá, Luiza, me dá tua mão”) e meus irmãos chamam: Chico, Caetano e Bethania. [risos] Assim você pode imaginar como foi minha infância. [risos]. Com uns dez anos mais ou menos, lembro de reunir meus poemas, digitar, imprimir, grampear, desenhar com lápis colorido as capas e sair para vender na escola. Olha aí, a poeta independente nascendo!

Tem algum autor e/ou autora que você leu na infância e que te inspira até hoje?
Eu lia muita história de mistério, aventura e investigação, como “Marcos Rey”, as “Desventuras em Série” e os clássicos da Coleção Vagalume. São livros que me marcaram e reverberam na minha escrita hoje. “Nadine” (minha obra mais recente), por exemplo, é um diálogo com esse gênero detetivesco.
Além disso, a poesia estava sempre presente em casa. Seja no cantarolar das canções de Gil, Paulinho da Viola, Gal. Seja na leitura de Drummond, Gullar, Lalau e Laura Beatriz, Manuel de Barros. Meus pais nos liam em voz alta, então a poesia chegava pelos ouvidos, de uma forma lúdica e afetiva. Pique aquilo que o Derrida diz no “Che cos’è la poesia?”. Nesse texto, ele define o poema como aquilo que penetra pelas vias do coração e se imprime na memória: ‘Assim surge em você o desejo de decorar. De deixar-se atravessar o coração pelo ditado. (…) Chamo poema aquilo que ensina o coração, que inventa o coração, enfim aquilo que a palavra coração parece querer dizer e que na minha língua me parece difícil de distinguir da palavra coração. (…) A memória “de cor” entrega-se como uma oração’. Nesse sentido, a poesia para mim começou como verbo corporificado e partilhado.
Como você organizou os poemas de “Também Guardamos Pedras Aqui”?
Escrevi quase todo o livro durante a oficina do Marcelino Freire – amigo amado e tão importante na minha trajetória. A cada segunda-feira, nós tínhamos que levar um texto novo para debater com a turma. Então, tinha esse compromisso: não dava para fugir da escrita [risos]. Nisso, alguns poemas vieram num fôlego só, como o da Cassandra, do Paris e do Homero. Vieram assim, com destinação para determinado personagem. Mas os outros vinham entrecortados, como pequenas cenas, aforismas, diálogos. Eu ainda não sabia o que estava escrevendo. Na real, acho que a gente poucas vezes sabe. Vai descobrir na hora que o livro sai da gráfica [risos].

Como escolheu o título?
O título vem do poema da Andrômaca que encerra o livro. É minha personagem favorita. Falo muito através dela. É uma voz que aparece em vários outros poemas, inclusive. E esse verso em específico, nasce de uma trapalhada minha. [risos] Para finalizar o livro, eu viajei para Grécia. Fiquei vinte dias visitando sítios arqueológicos, museus históricos e santuários. E durante a viagem, queria muito visitar as ruínas de Troia. Conhecer onde havia se passado a guerra, onde viveu Heitor, Cassandra e Ilíone. Procuro, procuro, procuro, e nada. E por mais que eu procurasse não iria encontrar, porque… Troia não era na Grécia, Troia era na Turquia. [risos]. Ou seja, eu não conheci troia e esse acaba sendo o início do poema para Andrômaca. E daí veio a reflexão de que Troia também é América Latina, que Tróia se ergue e é destruída muitas vezes ao longo da história, e que aos vencidos nem mesmo sobram as ruínas, os espaços de memória e resistência (“em português se diz destrua e não distroia / nem no verbo na aniquilação total / a cidade sobrevive”).
Quais relações possíveis entre a Grécia de Homero e o Brasil atual?
Pois bem, fui mapeando as atmosferas, percebendo que o livro era sobre violência, era sobre a literatura ocidental ser fundada a partir de um massacre, era sobre como essas tecnologias de morte chegam na América Latina via processo colonial e causam um estrago imenso e contínuo, que se perpetua até hoje, era sobre reler os clássicos e questionar esse estatuto canônico, era sobre uma viagem no tempo (Grécia-Brasil, “faz mais de três milênios ontem”), era sobre escavar vozes femininas soterradas ao longo da história.
Em determinado momento, tive um insight de que cada poema seria para uma personagem. Já tinha bastante coisa escrita. Me joguei no material e passei a organizá-lo a partir desse arco. Em alguns casos, simplesmente destinei os versos para figura x ou y; em outros, desenvolvi um aforisma em um poema maior; e em outros casos, escrevi poemas do zero, pois a personagem z tinha que estar e nenhum dos textos prévios se encaixavam. Nesse meio tempo, comecei a pesquisa formal: alguns poemas vieram como letra de música, outros como documento censurado, outros como manifesto, outros como uma cantada escrita num guardanapo.
O dia que inventarem uma “maneira correta” de ler poesia, ela morre.
Você possui algum método e ritual de escrita?
Cada projeto pede um procedimento. Em geral, demoro muito para sentar e escrever. Fico matutando o tema na cabeça, fazendo mil associações. Por meses e meses. Aí quando sinto o estralo, me lanço. Costuma ser rápido, meio obsessivo. Especialmente as primeiras versões são intensas. Escrevo em três ou quatro meses. Depois, volto para o material. E lá vai mais uns três ou quatro meses para revisar. Nesse processo, as leituras de outras pessoas são super importantes. Sou aquela chata que fica pedindo para os amigos – especialmente para o meu irmão Caetano – lerem o original e dizerem se faz sentido [risos].
Além de tudo, você é também atriz. Pretende escrever para o teatro?
Por enquanto não. Mas vai que…
Como o slam está presente na sua poesia?
Sem os slams e saraus, não seria poeta. Conheci esses movimentos em 2013, quando estava terminando a faculdade de Artes Cênicas. Meu plano era trabalhar com teatro, ser atriz e encenadora, mas aí conheci as batalhas de poesia. Foi numa sexta-feira à noite. No Slam da Guilhermina. Pum: paixão à primeira vista. Total e avassaladora. Por essa poesia viva e urgente. Quando vi, estava rodando a cidade de São Paulo de um canto para outro, falando em microfones abertos, participando de zines, performando em praça pública, publicando livros. Então, para mim, é impossível separar a palavra do som, a poesia do gesto. Mesmo quando escrevo no computador, meus dedos se movem no ritmo da respiração. Escrevo falando. É como se a palavra grafada precisasse de sopro e saliva para vir ao mundo.

O que mudou para você desde que você venceu o prêmio Jabuti em 2022?
A principal mudança é que o prêmio Jabuti possibilitou que meu trabalho chegasse em muitas leitoras e leitores novos. Até então, a maioria dos meus livros eram vendidos de mão em mão, após leituras, batalhas e performances. E de repente, o livro está por toda parte, nas bibliotecas, feiras, livrarias, escolas, encontrando um público que não me conhecia. Isso e a possibilidade de circular em outras línguas e países. No segundo semestre, por exemplo, o “Também guardamos pedras aqui” foi publicado na França pela Nossa Édition e o “Nadine” na Argentina pela Editora Mandacaru. Participei de eventos de literatura na Alemanha e Portugal; e agora no final do mês, vou para a Feria del Libro de Guadalajara para lançar o Pedras no México pela Editorial Círculo de Poesía.
O que pode nos adiantar sobre como será a sua participação na Flip?
Estou muito contente, muito mesmo, em dividir a mesa da FLIP com o Marcial Gala. Fiquei apaixonada por “Me chama de Cassandra” e acho que nossos trabalhos se hermanam nessa aposta de revirar os clássicos do avesso. Mal vejo a hora de colocar Cassandras, Rauls e Andromacas para conversar! Além disso, estarei na Casa Paratodos em duas mesas: em uma delas lançando o audiolivro do “Também guardamos pedras aqui”, uma parceria linda com a Supersônica, que teve a direção de Felipe Hirsch e sonoridades de Eugênio Lima; e na outra, homenagearmos Patrícia Galvão (PAGU). Será um bate-papo comigo e Adriana Armony, mediado por Simone Paulino, nossa editora. Também vai rolar bate-papo sobre o “Nadine” na Casa Pagã e para finalizar, terei o prazer de abrir a mesa de Silvia Federici, Veronica Gago e Luci Cavallero na FLIPEI com uma intervenção artística. O evento ainda terá intervenção política de Talíria Petrone e mediação de Jéssica Balbino.
Não é novidade que a literatura tem enfrentado uma concorrência desleal com as plataformas e redes sociais. Nossa atenção anda mais difusa do que nunca. Como garantir a sobrevivência da poesia? Há uma maneira correta de lê-la?
Não. O dia que inventarem uma “maneira correta” de ler poesia, ela morre. E particularmente, não leio as plataformas e redes sociais como uma concorrente da poesia, ou algo necessariamente antagônico. É óbvio que nossa forma de ler e estar no mundo tem se alterado com o imediatismo das mensagens, com o canto das sereias do mundo virtual e toda ansiedade que isso gera. Tamo no olho do furacão. Mas, ao mesmo tempo, há poetas investigando essas imbricações de forma bastante interessante. Seja durante o processo criativo, seja para divulgar suas produções a partir de outros formatos. O slam mesmo se espalha pelo Brasil depois que o pessoal do Slam Resistência passa a gravar as performances e postar na Internet. Foi um ponto de virada na história do movimento. Então, é um debate ainda em aberto, com suas contradições, ganhos e perigos.

 Djavan segue arriscando em “Improviso” e mostra o melhor de sua poesia em novo disco
Djavan segue arriscando em “Improviso” e mostra o melhor de sua poesia em novo disco Mariana Salomão Carrara vence o Prêmio São Paulo de Literatura
Mariana Salomão Carrara vence o Prêmio São Paulo de Literatura 3 exposições gratuitas para visitar em São Paulo
3 exposições gratuitas para visitar em São Paulo Exposição de Minerva Cuevas investiga como o poder molda a crise ecológica
Exposição de Minerva Cuevas investiga como o poder molda a crise ecológica Artista brasileira estreia no Museu do Cairo com obra inspirada em símbolos egípcios
Artista brasileira estreia no Museu do Cairo com obra inspirada em símbolos egípcios