A importância dos silêncios de Graciliano em “Vidas Secas”; leia análise
“Obra desmontável”, livro consagrou-se como uma das melhores produções do regionalismo brasileiro e conciliou objetividade e comiseração

Uma família de retirantes se lança contra o sertão nordestino em busca de uma vida melhor na cidade grande. Tal destino, que poderia se tornar um drama de apelo emocional imediato, recebeu de Graciliano Ramos (1892-1953), alagoano da cidade de Quebrangulo, o tratamento literário que o tornou o maior prosador do regionalismo da chamada Geração de 30 do modernismo brasileiro. Seus personagens, Fabiano, Sinhá Vitória, os dois filhos (“o menino mais novo” e “o menino mais velho”), a cachorra Baleia e um papagaio, são caracterizados como criaturas em constante embate com o meio, hostil e degradante.
Dividido em 13 capítulos independentes, que não apresentam ligação formal entre si, apenas temática, Vidas Secas (1938) chegou a ser chamado por Rubem Braga de “romance desmontável”. Assim, há capítulos intitulados Mudança, Cadeia, Festa, O Soldado Amarelo, O Mundo Coberto de Penas.
Graciliano começou a conceber o livro depois de escrever Baleia, inicialmente um conto publicado em jornal, que foi bem recebido. Mas, referindo-se a esse texto, Ele escreveu à mulher: “O conto que terminei ontem é uma estopada que nenhum leitor normal aguenta”. A declaração, injusta, pode ser vista como a consequência natural de um escritor rigorosamente avesso ao sentimentalismo.
Embora o capítulo esteja longe de sofrer disso, graças à forma que Graciliano emprega, a força imagética da agonia de uma cadela e de seu sacrifício sensibiliza o leitor. Para o crítico Álvaro Lins, em Vidas Secas o autor “se mostra mais humano, sentimental e compreensivo, acompanhando o pobre vaqueiro Fabiano e sua família com uma simpatia e uma compaixão indisfarçáveis”.
Uma família embrutecida
Os silêncios, as lacunas e os vazios em alguns trechos do livro “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos
“Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia.”
“Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos — exclamações, onomatopeias. Na verdade falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas.”
“Sinhá Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons gutu- rais que estavam perto. Fabiano […] acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. […] Pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória apro- vou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.”
Os personagens do livro Vidas Secas são caracterizados como criaturas em constante embate com o meio, hostil e degradante
Graciliano foi maior que seus contemporâneos porque preferiu a síntese ao expositivo, o psicológico ao social. Nas palavras do crítico Antonio Candido, “achou a condição humana intangível na criatura mais embrutecida”. A aversão ao desleixo formal distanciou Graciliano de certa corrente modernista. Na técnica, o escritor firmou-se como herdeiro do realismo psicológico machadiano.
Se, por um lado, o cunho social de Vidas Secas lhe garantiu alguma afinidade com alguns outros preceitos da Semana de Arte Moderna de 1922, que procurava descrever a realidade do país tornando protagonistas certos tipos brasileiros, por outro, encontrou insatisfação entre companheiros políticos. Teve inúmeros atritos com membros do Partido Comunista (ao qual, apesar disso, ele mesmo viria a se filiar em 1945), que viram como negativa a atitude “subserviente” de Fabiano ao ser preso pelo soldado amarelo, personagem que é uma alegoria do Estado. Mas Graciliano não se rendeu às críticas e manteve sua prosa a salvo do discurso pobre que servia de base à literatura engajada.
Longe do texto panfletário, a história da família retirante constrói-se de silêncio, lacunas e vazio. Vidas Secas expõe em quadros situações que revelam não apenas a opressão sofrida pela família, mas também a dificuldade de verbalização dos personagens. A equiparação da família aos animais evidencia-se ao longo do livro. A cachorra Baleia chega a ser mais expressiva e humana que os donos. “Por pouco que o selvagem pense — e os meus personagens são quase selvagens —, o que ele pensa merece anotação. Foi essa pesquisa psicológica que procurei fazer; pesquisa que os escritores regionalistas não fazem nem mesmo podem fazer; porque comumente não conheceram o sertão, não são familiares do ambiente que descrevem”, disse o escritor sobre o romance.
E fez isso pela terceira pessoa, fugindo ao padrão de seus romances anteriores. A mudança do foco narrativo levou o crítico Álvaro Lins a também supor que se, antes, o autor “deixava os personagens entregues à própria sorte”, agora ele se identificava com a família de retirantes. No caso de Graciliano, a questão levanta uma suspeita que muitos não abraçariam. Depois de Caetés (1933), São Bernardo (1934) e Angústia (1936), o distanciamento do autor estaria consolidado de tal forma que um exercício de compaixão seria pouco provável. Pensando-se no leitor, o mesmo que abonou a publicação de Baleia no jornal, é justamente nesse binômio objetividade-comiseração que se encontra uma das grandes forças do livro.
Entenda o regionalismo de Graciliano Ramos
Em 1928, o paraibano José Américo de Almeida publica A Bagaceira, romance que inauguraria no modernismo brasileiro a chamada fase do romance regionalista. O termo, bastante abrangente e aplicado a autores tanto do Sul como do Nordeste, se refere a uma extensa produção literária que retrata um mundo rural e interiorano.
Para ficar centrado no universo geográfico de Graciliano Ramos, ele se filia evidentemente a todo um ciclo iniciado por Almeida e seguido pela cearense Rachel de Queiroz (O Quinze, de 1930) e pelo paraibano José Lins do Rego (Menino de Engenho, de 1932). Seriam os autores do sertão — Jorge Amado trabalharia com outra vertente de regionalismo ao traçar sua Bahia.ntes do início de A Bagaceira, numa pequena série de citações intitulada Antes que Falem, Almeida afirma: “O regionalismo é o pé-do-fogo da literatura… Mas a dor é universal, porque é uma expressão de humanidade. E nossa ficção incipiente não pode competir com os temas cultivados por uma inteligência mais requintada: só interessará por suas revelações, pela originalidade de seus aspectos despercebidos”. Com precisão, o escritor identificava os dois pontos que o tornariam, com seus pares, importante fomentador de um gênero na literatura brasileira: revelação e originalidade.
Embora já trilhada por José de Alencar no romantismo e planejada pela agitação da Semana de 22, essa busca da descrição dos “aspectos despercebidos” da sociedade brasileira encontraria nesses autores um alto grau de elaboração estética. Seja pela motivação da memória pessoal (Lins do Rego), seja pela necessidade de perfilar homens encalacrados física e psicologicamente no seu meio (Graciliano), o romance regionalista da década de 1930 aprofundava o estudo de uma região que se mostraria, pela ficção, patriarcal, arcaica e de certa forma dese- josa de igualar-se nos costumes aos centros urbanos.
Este texto faz parte da coleção especial “100 livros essenciais da literatura”, publicada pela Bravo! em 2008
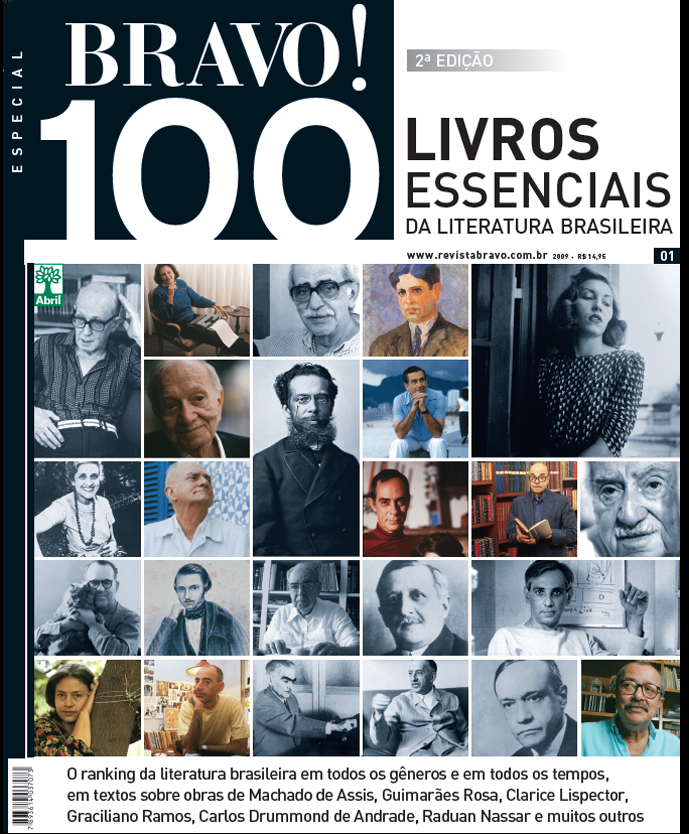

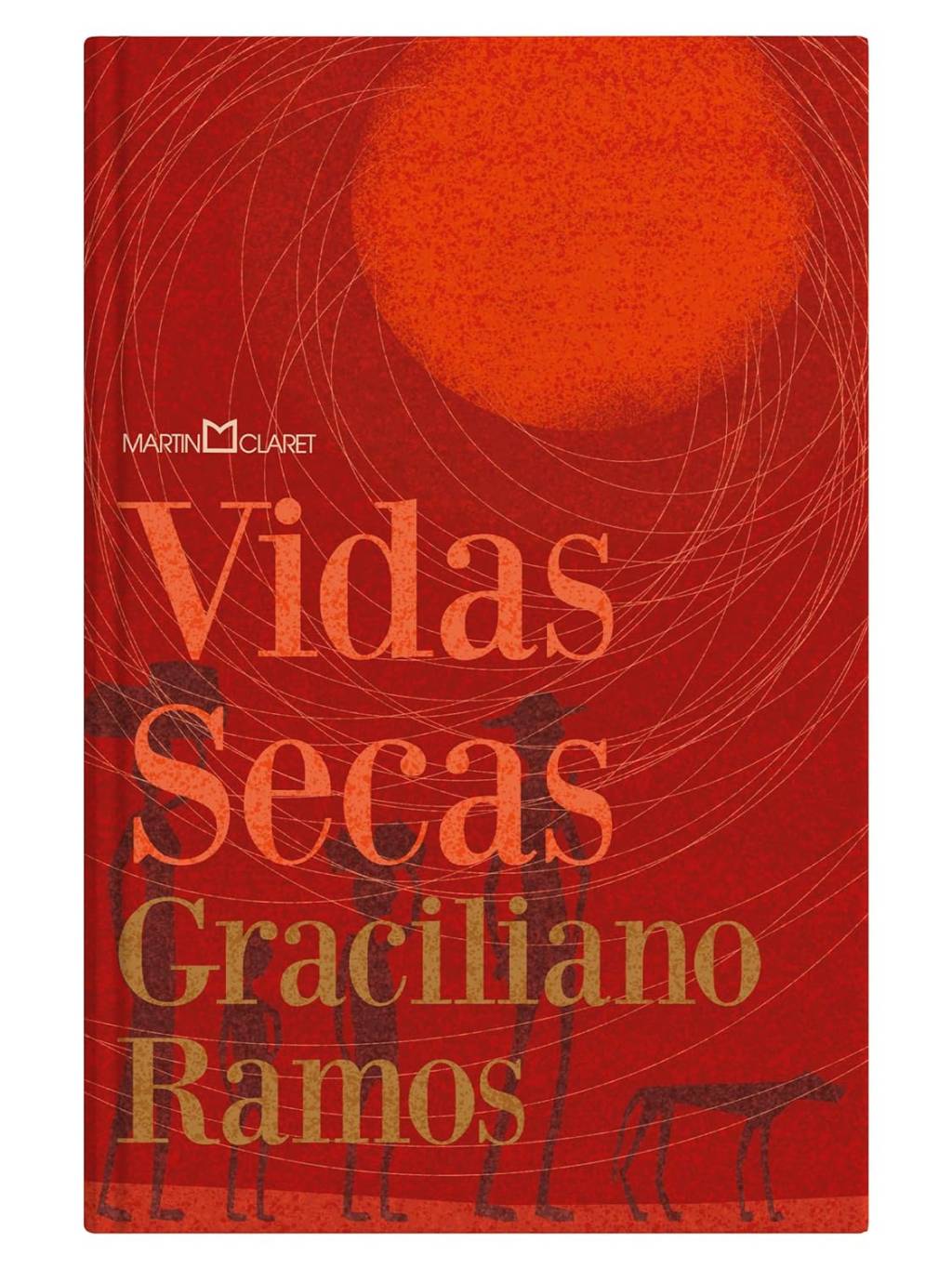
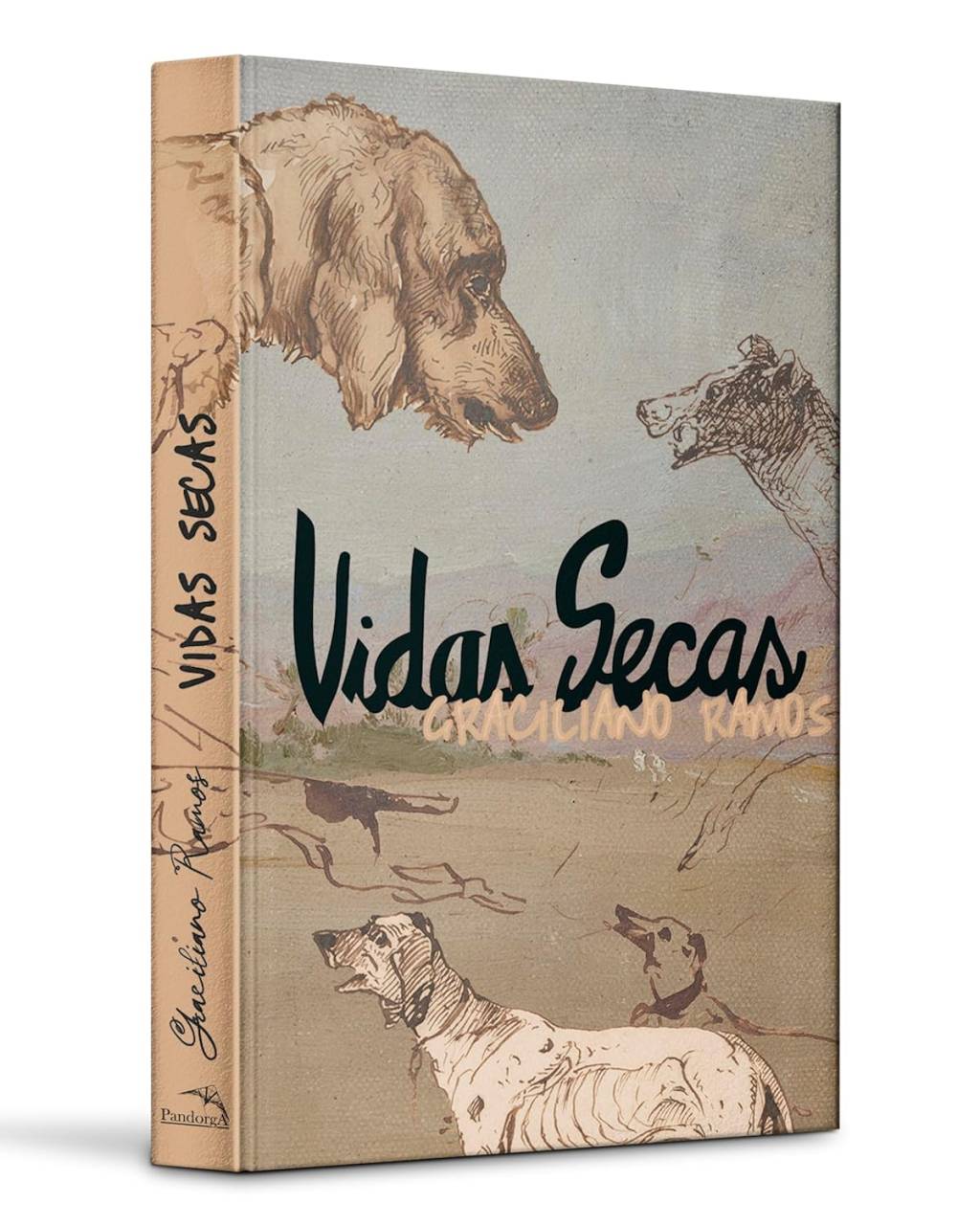
 Conheça o elenco da nova série Harry Potter, da HBO Max
Conheça o elenco da nova série Harry Potter, da HBO Max Série sobre Gloria Maria revive trajetória da jornalista que revolucionou a TV brasileira
Série sobre Gloria Maria revive trajetória da jornalista que revolucionou a TV brasileira Galeria Claudia Andujar de Inhotim recebe obras de 22 artistas indígenas
Galeria Claudia Andujar de Inhotim recebe obras de 22 artistas indígenas 100 melhores livros do século segundo o jornal The New York Times
100 melhores livros do século segundo o jornal The New York Times 10 séries nacionais imperdíveis que estreiam em 2025
10 séries nacionais imperdíveis que estreiam em 2025